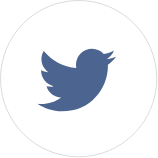'Hoje eu sou Ruby. Por mim, pela lei e pelos meus documentos': o 8M também pertence às transexuais
Conheça a história de três mulheres trans paraenses e suas lutas por espaço, escuta e legitimação

Há múltiplas formas de ser mulher. Múltiplos olhares, culturas, lugares, vivências. Cada experiência constitui a mulher como um ser único, com histórias particulares, batalhas e conquistas. Ser mulher trans é, como as mulheres nascidas em corpo feminino, vencer um dia de cada vez, enfrentar desafios, ter força, persistência, mas é, também, estar nos principais, e mais lamentáveis, índices de desemprego, violência, assassinatos.
LEIA TAMBÉM
- Mulheres fazem atos pelo 8 de Março em Belém
A Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra) aponta que 90% das pessoas trans recorrem a prostituição de rua ao menos em algum momento da vida. O dado está intimamente ligado às suas realidades: são mulheres que, quando se assumem como tal, são expulsas de casa, violadas psicologicamente e, por vezes, sexualmente, vulnerabilizadas e marginalizadas. Estar na contramão disso é um privilégio. Não que seja fácil, mas, são tão poucas as que conseguem emprego, aceitação e posicionamento social, que o termo pode ser facilmente usado para definir a situação.
Luta por identidade
A professora de francês Ruby Gomes, 31, sabe muito bem disso. Foram mais de duas décadas até que ela mesma, efetivamente, se aceitasse como mulher. "Aos 18 me assumi como homossexual, mas eu sabia que não era isso. Quando entrei na faculdade, em 2009, comecei a inserir vestes femininos, colocar maquiagem, mas a transição, de fato, só veio recentemente", conta, ao lembrar que as roupas não adiantavam muito. "Do que servia usar roupa feminina e me chamarem pelo nome masculino?".
Foi só em 2018 que Ruby passou a se apresentar à sociedade como mulher. Seu principal empecilho era, justamente, o desemprego. "Eu tinha medo de ficar sem emprego, mas eu não queria estar trabalhando sendo um homem. Eu queria ser a Ruby no meu trabalho", explica. "Foi quando saí do emprego antigo, tirei minha carteira social e, em seguida, fui para uma palestra que tinha uma mulher trans dando seu depoimento. Foi nesse dia que descobri que eu podia mudar meu nome e corri atrás disso. Hoje eu sou Ruby. Por mim, pela lei e pelos meus documentos".
Formada em licenciatura em francês, Ruby foi contratada, já como mulher trans, em agosto de 2018 por uma escola de idiomas. Desde então, trabalha de carteira assinada. "Sou muito respeitada em todas as unidades. Sou tratada muito bem", afirma.
Questionada sobre o Dia das Mulheres, ela diz que "se nós, como mulheres trans, nos sentimos mulheres, eu sou parte dessa luta, independente do meu sexo de nascimento. O meu gênero, minha alma, é feminina".
"Eu tinha medo de ficar sem emprego, mas eu não queria estar trabalhando sendo um homem. Eu queria ser a Ruby no meu trabalho. Hoje eu sou Ruby. Por mim, pela lei e pelos meus documentos. Se nós, como mulheres trans, nos sentimos mulheres, sou parte dessa luta. O meu gênero, minha alma, é feminina"
Espaço e afirmação
A professora de inglês Paolla Pinheiro, de 47 anos, também está entre os 4% das pessoas trans que têm emprego formal no Brasil. Sua admissão, porém, foi muito antes de qualquer transição: há 20 anos ela ingressou no Estado como concursada, mas a transição de gênero iniciou em 2018 e foi vivida dentro das escolas.
"Eu assumi minha transexualidade quando percebi que não dava mais para viver aquela vida escondida através da imagem de um homem. Quando tirei minha identidade social, a primeira coisa que fiz foi colocar meu nome no Facebook. Isso acabou me dando destaque dentro da escola, porque eles viram que eu tomei atitude, que eu tinha força", avalia, acrescentando que "meus alunos me recebem com louvor tão grande, que fico emocionada só de falar, mas com meus colegas foi difícil. Eu tive que lutar muito para conquistar meu espaço".
Apesar de admitir que tinha receio de como seria esse processo dentro do ambiente profissional, Paolla é categórica ao afirmar que "o principal desafio da mulher trans é a aceitação de sua própria família". "A rejeição é muito grande. Essas pessoas ficam familiarmente desamparadas e é daí que vem os índices de prostituição, de violência. A gente precisa de entidades que nos ajudem", aponta.
"Eu assumi minha transexualidade quando percebi que não dava mais para viver aquela vida escondida através da imagem de um homem. Quando tirei minha identidade social, a primeira coisa que fiz foi colocar meu nome no Facebook. Isso acabou me dando destaque dentro da escola. Viram que eu tomei atitude, que eu tinha força", diz Paolla Pinheiro, professora
Paolla também ressalta que "o preconceito é uma forte barreira para viver a liberdade", ao considerar que, para ela, viver em uma sociedade ideal é "poder chegar em um lugar e dizer que sou mulher e não que sou trans, porque, acima de ser trans, sou mulher".
Ancestralidade e engajamento
Atriz e arte educadora, a paraense Xan Marçall, 34, mora atualmente em Salvador. Integrante do Coletivo das Liliths, que debate sobre ancestralidade de pessoas trans, ela lembra que "é preciso entender que existem narrativas ancestrais sobre as existências de pessoas trans e travestis na América Latina e no Brasil especialmente". "Eu poderia citar duas delas, que fazem parte do histórico da formação do Brasil, que é a Xica Manicongo, considerada, pelos estudos antropológicos, a primeira travesti não-índia do Brasil e a existência dos Tibiras, que são as pessoas de comunidades Tupinambás, à época do Brasil colônia, que se expressavam fora da norma que a gente pode entender hoje como cis-hetero", completa.
Por que devemos levantar esse debate? Segundo Xan, é preciso entender que esse é um processo antigo e não surgido somente na década de 80, como costumam abordar. "Nossa história é muito mais antiga do que contam. Somos marginalizadas, silenciadas, escondidas até nisso. Para que outras pessoas possam se empoderar, elas precisam saber suas histórias e trajetórias de vida".
Sobre o 8 de Março, ou #8M, como o movimento tem sido propagado nos últimos anos, a educadora reflete que a demanda para que suas existências sejam legitimadas é uma luta história e que "pensar no dia 8 de março, para a nossa população de mulheres trans-travestis, é mais uma vez ratificar que a nossa existência não precisa ser abjeta, não precisa estar, mais uma vez, dentro de um contexto de ilegalidade, ilegitimidade". "Então, pensar no dia 8 de março é pensar que ouras feminilidades e outras formas de ser mulher existem".
"Pensar no 8 de março é mais uma vez ratificar que a nossa existência não precisa estar, mais uma vez, dentro de um contexto de ilegalidade, ilegitimidade. É pensar que ouras feminilidades e outras formas de ser mulher existem", pondera Xan Marçall
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA